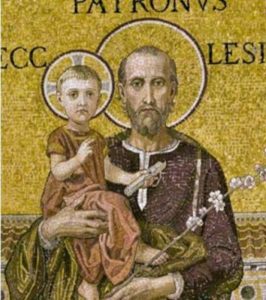“Deus resgatou minha alma doente e entorpecida de um destino literalmente pior que a morte.
Sem a sombria epifania que eu experimentei naquele bar, e aquilo a que ela me levou, só Deus sabe onde eu estaria agora.”
Olhando retrospectivamente para os meus 29 anos de médico, acho que o ano em que passei no hospital do câncer foi o mais difícil de todos.
Toda quarta-feira e fim de semana, sem falta, eu cobria a unidade de terapia intensiva por 24 horas, como médico residente intermediário.
Durante todo o tempo em que passei ali, não vi um único paciente sobreviver, embora não fosse por falta de tentativa. Nenhum sequer.
Todos tinham em comum o fato de a sua médula óssea ter sido suprimida pelas sessões de quimioterapia, o que tinha como consequência infecções generalizadas inevitavelmente fatais. UTI, ressuscitação completa com tubos, ventilação, terapia intravenosa, estimulantes cardíacos: era tudo em vão.
Eles morrem porque, sem a médula óssea funcionando, perdem a resposta imune do seu organismo.
Nenhuma quantidade de antibióticos consegue impedir que seus corpos sejam infestados por microorganismos.
Obviamente, eu atendia apenas os mais doentes de todos. A maior parte dos pacientes de quimioterapia não sofre complicações tão severas.
Com a médula recuperada, o seu câncer regride ou é até mesmo curado.
Eu tinha me tornado médico para curar quando desse, dar alívio na maioria das vezes e confortar sempre, mas aquela contínua experiência de fracasso foi começando pouco a pouco a me deixar para baixo.
O princípio do abismo
Comecei a ficar apavorado com o trabalho no hospital do câncer, com medo de aquele bipe tocar.
Mesmo tendo me afastado da prática da fé depois da universidade, comecei a rezar, pedindo que os meus pacientes se recuperassem ou que, pelo menos, eu não estivesse de plantão quando eles fossem admitidos.
Minhas orações não foram atendidas. As mortes continuaram acontecendo, implacáveis, e um grande sentimento de vazio e de desespero encheu o meu coração.
O fato de eu estar solteiro, sem amigos, morando sozinho e afogando minhas mágoas, toda noite livre, em um bar ao lado do hospital, só piorava a situação. Nunca me faltavam companheiros – da equipe do hospital, principalmente – com quem beber, rir e me divertir na hora do rush, antes de voltar para jantar, TV e cama.
Meu coração batia, mas eu não estava vivo.
Espiritualmente, eu era um alegre pagão, um Baco vestido com um imundo jaleco branco e uma falsa auréola na cabeça.
Mesmo tendo vivido uma profunda experiência religiosa dois anos antes, minha vida moral continuava pintada com vários tons de preto e minha cabeça estava cheia de ideias sem sentido de sincretismo e “nova era”.
Um dia, escrevendo o relatório de um jovem paciente que tinha acabado de falecer, fiquei paralisado ante a espreita do “cachorro negro” da depressão, pronto para me devorar.
Eu estava encarando o vazio e meu rosto deve ter feito soar o alarme, porque um dos parentes da vítima veio me perguntar, preocupado:
“Está tudo bem, doutor?” Emocionado com a sua gentileza, eu me desculpei: “Perdão, estou lutando para ver algo de bom aqui. Tem morte demais nesse lugar.”
Constrangido com minha própria franqueza e morbidez, corri para a sala de plantão, desorientado à procura de uma introspecção e de alguma conversa com Deus. Nada disso me ajudou, na verdade.
As enfermeiras devem ter pensado que eu era um desses senhores velhos e desajeitados.
Outra coisa me incomodava em relação à ética do hospital. Havia uma forte ênfase de pesquisa nos efeitos das terapias: tratamento A versus tratamento B.
Tudo medido pelo número total de dias de sobrevivência, incluindo os pacientes da seção de terapia intensiva.
Meu único papel parecia ser o de prover, a qualquer preço, aquelas últimas desesperadoras horas de vida, estendidas apenas por intervenções médicas extremas e inúteis.
Eu não passava de um mero acessório para a confecção isolada de estatísticas.
Parecia haver algo de errado naquilo tudo.
(continua…)
fonte: padrepauloricardo.org